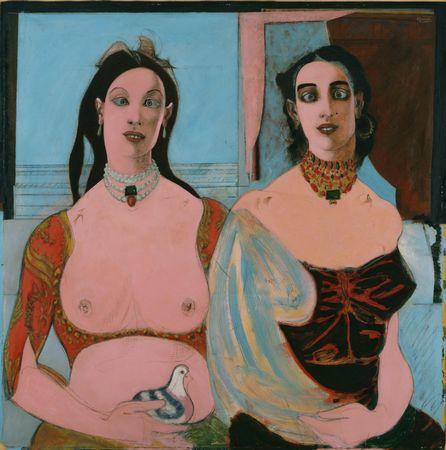Etiquetas
 Viajar é hoje um desejo e um prazer ao alcance de grande número. O mundo está mais pequeno. E embora possamos à distância do dedo num computador ter noticia do mais ínfimo recanto da terra, a vontade de ver e sentir os lugares continua a fazer parte do impulso humano por conhecer.
Viajar é hoje um desejo e um prazer ao alcance de grande número. O mundo está mais pequeno. E embora possamos à distância do dedo num computador ter noticia do mais ínfimo recanto da terra, a vontade de ver e sentir os lugares continua a fazer parte do impulso humano por conhecer.
Testemunho maior dessa avalanche de gente a viajar que os últimos anos trouxeram, é provavelmente, em Roma, a Praça da Basílica de S.Pedro na Cidade do Vaticano, permanentemente ocupada por peregrinos e turistas, gostando de simplesmente ali estar, ou em filas que parecem eternas para visitar a igreja.
E se a uma parte da humanidade viajar não é possível, alguns há que continuam tão só a fugir à guerra ou à fome, como os homens, mulheres e crianças que todos os dias aportam ao largo da costa italiana, e aí por vezes encontram a morte. É ainda desta igreja de S. Pedro que se levanta a voz para lembrar ao mundo a tragédia dessa humanidade que na fuga para um futuro melhor morre às portas do paraíso sonhado.
Os paraíso onde o viver feliz se sonha são isso mesmo, matéria de sonho. E são inesperadas as formas como nos apercebemos quanto o mundo mudou ao longo das nossas vidas levando os paraísos sonhados de um lugar para outro.
Ao viajar por Itália confronto-me com a memória da primeira vez que longamente viajei pelo pais no já distante ano de 1978. Era uma vida diferente, e uma sociedade diferente. O mundo encontrava-se divido em dois blocos e na Europa havia fronteiras entre cada país. O muro de Berlim, de pé, desenhava a fronteira física e psicológica da liberdade.
No ano anterior (1977) tinha vivido por quase dois meses a experiência directa do comunismo na Polónia, paraíso sonhado por muitos e experiência devastadora da crença na possibilidade de um mundo melhor por simples decreto além de preciosa aprendizagem do valor da liberdade.
Quando este ano aterrei no aeroporto da antiga Berlim Leste, foi estranho recordar como 36 anos antes ali estive parado dentro de um avião que seguia para Moscovo com escala em Varsóvia, onde eu desceria, e da janela observava como os passageiros com destino a Moscovo, obrigados a descer do avião, seguiam por uma passadeira entre militares ou policias de espingarda em riste, sabe-se lá para onde. A angústia perante o sem sentido da situação e o absurdo do abuso assombraram-me durante muito tempo.
Foi outra, feliz, e formadora de um gosto, a viagem do ano seguinte a Itália. Ainda há pouco, quando alguém comentava comigo quanto o convívio com as coisas belas acaba por instalar em nós o gosto e o desejo do belo, lembrei dessa viagem um detalhe ocorrido em Verona, que agora recordo.
Representava-se nessa noite na Arena de Verona, majestoso e gigantesco teatro romano ao ar livre, a ópera O Trovador de Verdi. Estando em Veneza, decidi não perder a oportunidade do espectáculo e cedo cheguei a Verona.
Era princípio da tarde e passeando em torno da arena aproximei-me de uma excursão de farnel e garrafão. Eram italianos do sul em viagem de autocarro pelo norte de Itália, na modalidade que ao tempo era habitual entre pessoas de poucas posses: transportar lancheira, fazer piquenique junto ao autocarro, e muitas vezes dormir nele.
Aproximei-me, e a certa altura surpreendi a exclamação de um excursionista para outro: Guarda que bello! (Olha que belo!). Olhava para a arena, extasiado com a beleza do monumento.
Dificilmente entre outros povos, gente da mesma condição económica revelaria em voz alta esta comoção perante o espectáculo da beleza, mesmo que a ela fosse sensível.
O que me comove e surpreende sempre em Itália, é o gosto e carinho com que os italianos vivem o seu património construído e herdado.
Sacrificando o conforto do quotidiano que as construções modernas podem trazer à habitação e ao viver urbano, adoptam os centros históricos e mantêm-nos vivos, criando em quem chega o desejo de ali viver também. Aí vive o comércio tradicional, e a mais sofisticada moda internacional convive quase paredes meias com os géneros alimentares e a venda de arte. E depois as pessoas. Seja Roma, seja uma qualquer cidade média como Pádua, por exemplo, onde num sábado à tarde demoradamente passeei, as pessoas enchem as ruas com comércio, deambulam, param para conversar, vivem o espaço urbano como em Portugal só recordo na longínqua infância, e hoje apenas na zona do Chiado, em Lisboa, acontece.
A foto que hoje arquivo no blog, tirada nessa longínqua visita de 1978, dá conta de uma Praça de S. Pedro vazia durante a tarde, e é uma imagem hoje impossível de conseguir.
Nessa visita, não havia Papa. Tinha morrido Paulo VI e o consistório ainda não escolhera substituto. Os frescos da Capela Sistina ainda não tinham sido devolvidos às cores supostamente originais que hoje podemos admirar. Eram uma acinzentada mancha mal iluminada, onde a custo se divisavam as pinturas que pouco mais de dezena de visitantes observava. Hoje lá estão: esplendorosos, e dificilmente contempláveis entre a compacta multidão que se acotovela e os gritos dos seguranças: é proibido fotografar ou filmar!
Foi Michelangelo (1475-1564) o autor dessas maravilhas artísticas: o projecto da praça, o projecto da igreja e as pinturas do tecto e altar da Capela Sistina.
Artista e espírito da renascença, foi também poeta de génio, e com um seu soneto onde reflecte sobre a pequenez da sua condição humana perante Deus termino este circunlóquio entre o hoje e o mundo de há mais de 30 anos.
“Forse perché d’altrui…”
Forçoso é que a piedade enfim me venha,
pra que d’alheias culpas mais não ria,
seguro em meu valor, sem outro guia,
alma perdida que de si desdenha.
Nem sei que outra bandeira me mantenha
não vencedor, mas salvo da porfia
com que o tumulto adverso me seguia,
se não é Teu poder que me sustenha.
Ó carne, ó sangue, ó lenho, ó dor extrema!
Justo por vós se tome o meu pecado,
do qual nasci e os pais que foram meus.
Só Tu és bom: socorra tão suprema
piedade o meu predito iníquo estado:
tão perto a morte, e ainda tão longe Deus.
Original italiano
Forse perché d’altrui pietà mi vegna,
perché dell’altrui colpe più non rida,
nel mie propio valor, senz’altra guida,
caduta è l’alma che fu già sì degna.
Né so qual militar sott’altra insegna
non che da vincer, da campar più fida,
sie che ’l tumulto dell’avverse strida
non pèra, ove ’l poter tuo non sostegna.
O carne, o sangue, o legno, o doglia strema,
giusto per vo’ si facci el mie peccato,
di ch’i’ pur nacqui, e tal fu ’l padre mio.
Tu sol se’ buon; la tuo pietà suprema
soccorra al mie preditto iniquo stato,
sì presso a morte e sì lontan da Dio.
Soneto 66 das Rime de Michelangelo
Tradução de Jorge de Sena, in Poesia de 26 Séculos, Fora do Texto, Coimbra, 1993.