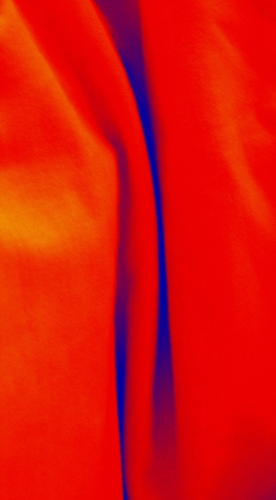Etiquetas
Para além da ausência e dos percalços da paixão, tinha sido um dia quase perfeito. De manhã o trabalho levou-me até ao mar. À tarde, um par de horas à conversa com um amigo sobre poesia, sobretudo, e a oferta do livro que é o pretexto desta prosa.
Jantei no Sergio, incluindo o tiramisu da minha perdição, e resolvi ir ao cinema. O novo filme de Woody Allen, Meia-noite em Paris, terna e lúcida reflexão sobre a nostalgia e o sentido que a cultura dá à vida, foi a cereja.
Chegado a casa, pego no livro oferecido e a leitura é quase compulsiva. Os fios com que o acaso nos tece a meada da existência têm destas coincidências: entre os textos do livro, surge uma reflexão sobre as mulheres, que aqui reproduzo, e encaixa no que hoje me preocupa:
10 – DAS MULHERES
As mulheres (digo: algumas mulheres) (digo: algumas mulheres, poucas) (digo: algumas mulheres, poucas, e nenhum homem) acalmam-me, tiram-me das minhas circunstâncias. Corpo com o corpo – sexo, pele, boca, mãos –, com a voz, apenas com a presença. Às mulheres tudo me parece possivel. Talvez por isso as trate com maior exigência. Quando o não fazem, é porque não querem ou porque os homens são umas bestas. Os homens, prosaicamente, não fazem o que nao podem, brutos coitados. Às mulheres pode-se e deve-se (e devem-se) exigir o poema permanente. E criar as condições para que não se tenham de preocupar com mais nada para além disso. Só isso permite aos machos (alguns, poucos) fugazes fogachos de poesia. Só isso evitará o quase inevitável: que neste mundo haja mais pedreiras do que prados, mais escaravelhos sobrevivendo à fuligem do que cachorros panando-se na areia. Tirésias, que voltou a ser homem depois de ter sido mulher, ensinou-nos que as mulheres sentem dez vezes mais prazer do que os homens. É por isso, estou certo, que se preocupam menos com o que não interessa. E foi também por isso que com elas aprendi o pouco que sei acerca de prioridades: I.ª o prazer, 2.ª o prazer,3.ª o prazer, 4.ª o prazer, e por aí fora. Se assim for, não nos preocupemos com o Céu – tê-lo-emos alcançado aqui em baixo e Deus e os anjos virão ter connosco.
O livro – LÉRIAS – de Miguel Martins, recentemente editado pela AVERNO, reúne um conjunto de textos previamente publicados pelo autor num blog.
Poeta de quem conheço mal a poesia, revela nestes textos, alguns com acentuado pendor poético, um olhar sereno e um tanto irónico (a começar pelo título) sobre as voltas da vida e a hierarquia do que na verdade vale a pena guardar como presente por estar vivo.
Lido o livro, onde algumas afinidades encontro, transcrevo o ultimo texto nele publicado:
27 – FINE
Os sentimentos são paisagens áridas, imprecisas, tremeluzentes, desconfortáveis.
Dito isto, poderia fechar a porta, correr as grades, trancar o cadeado, dar a loja por encerrada, sem previsões de reabertura.
Fechados lá dentro, os sentimentos, bem, seria como se não existissem.
Talvez morressem, se desidratassem, se pulverizassem, talvez deles restasse apenas uma mancha de gordura no chão.
Em qualquer caso, emudeceriam. Ou não seriam escutados, o que vem a dar ao mesmo.
Nunca contemplei esta hipótese por mais de cinco minutos – certamente, nem tanto.
Não consigo. Não sei. Julgo que, no fundo, é o que menos quero. E que essa é a raiz da minha resistência. Crónica e aguda.
Os sentimentossão onde sei viver, onde me sinto menos morto.
Os sentimentos sou eu.
Os melhores.
Os piores.
O beijo.
A bala.
(Ou vice-vresa).
Todos os nomes da intranquilidade.
Aqui chegados remeto-vos para Pandémica e Celeste de Jaime Gil de Biedma , dando uma vez mais conta das continuidades que fazem a poesia transversal ao tempo e à geografia, quando com sinceridade fala do homem e da sua circunstância:
Pandémica e Celeste – um poema de Jaime Gil de Biedma (1929-1990)