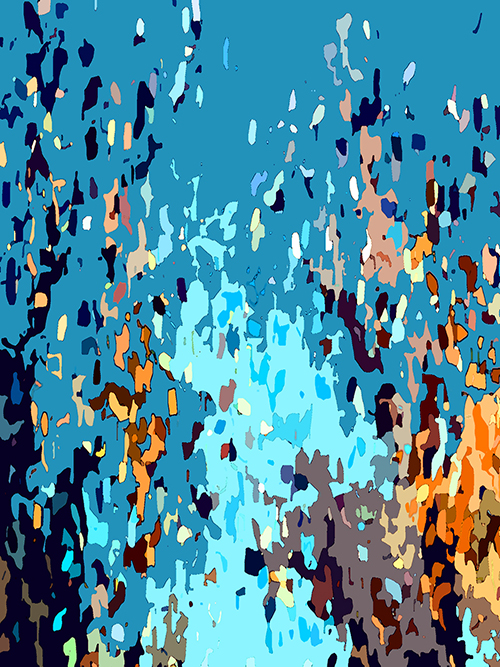Etiquetas
 Procurar o sonho na poesia de Fernando Pessoa(1888-1935) é uma viagem emocionalmente arriscada. Ele está lá, mas no deslaçado da existência no mundo da sua poesia, ele é o outro lado a que a vida não chega e do qual uma nostalgia às vezes sobrevive.
Procurar o sonho na poesia de Fernando Pessoa(1888-1935) é uma viagem emocionalmente arriscada. Ele está lá, mas no deslaçado da existência no mundo da sua poesia, ele é o outro lado a que a vida não chega e do qual uma nostalgia às vezes sobrevive.
Ainda muito jovem, Fernando Pessoa na sua poesia desencantava-se da vida e do lugar onde a viver, em termos de pungente desolação:
Às vezes, em sonho triste
Nos meus desejos existe
Longinquamente um país
Onde ser feliz consiste
Apenas em ser feliz.
Vive-se como se nasce
Sem o querer nem saber.
Nessa ilusão de viver
O tempo morre e renasce
Sem que o sintamos correr.
O sentir e o desejar
São banidos dessa terra.
O amor não é amor
Nesse país por onde erra
Meu longínquo divagar.
Nem se sonha nem se vive:
É uma infância sem fim.
Parece que se revive
Tão suave é viver assim
Nesse impossível jardim.
21-11-1909
Mais de vinte anos passados, e porque o sonho, embora triste, existiu, o poeta escreve ainda, metaforicamente, a esperança de que sobre o negro do girassol da vida, o seu amarelo lhe dê o calor que a infância espera dela:
Guardo ainda, como um pasmo
Em que a infância sobrevive,
Metade do entusiasmo
Que tenho porque já tive.
Quase às vezes me envergonho
De crer tanto em que não creio.
É uma espécie de sonho
Com a realidade ao meio.
Girassol do falso agrado
Em torno do centro mudo
Fala, amarelo, pasmado
Do negro centro que é tudo.
18-4-1931
Adulto, e consciente de si, mesmo assim o sonhar não traz um sentido diferente à existência, conduzindo-a pelo caminho que vontade e desejo podem traçar:
…
Ver claro! Quantos, que fatais erramos,
Em ruas ou em estradas ou sob ramos,
Temos esta certeza e sempre e em tudo
Sonhamos e sonhamos e sonhamos.
…
e ainda, no outro poema a seguir transcrito refere:
…
Por isso, alheio, vou lendo
Como páginas, meu ser
O que segue não prevendo,
O que passou a esquecer.
…
Eis os poemas citados:
*
Olhando o mar, sonho sem ter de quê.
Nada no mar, salvo o ser mar, se vê.
Mas de se nada ver quanto a alma sonha!
De que me servem a verdade e a fé?
Ver claro! Quantos, que fatais erramos,
Em ruas ou em estradas ou sob ramos,
Temos esta certeza e sempre e em tudo
Sonhamos e sonhamos e sonhamos.
As árvores longínquas da floresta
Parecem, por longínquas, estar em festa.
Quanto acontece porque se não vê!
Mas do que há ou não há o mesmo resta.
Se tive amores? Já não sei se os tive.
Quem ontem fui já hoje em mim não vive.
Bebe, que tudo é líquido e embriaga,
E a vida morre enquanto o ser revive.
Colhes rosas? Que colhes, se hão-de ser
Motivos coloridos de morrer?
Mas colhe rosas. Porque não colhê-las
Se te agrada e tudo é deixar de o haver?
20-1-1933
**
Não sei quantas almas tenho.
Cada momento mudei.
Continuamente me estranho.
Nunca me vi nem achei.
De tanto ser, só tenho alma.
Quem tem alma não tem calma.
Quem vê é só o que vê,
Quem sente não é quem é,
Atento ao que sou e vejo,
Torno-me eles e não eu.
Cada meu sonho ou desejo
É do que nasce e não meu.
Sou minha própria paisagem,
Assisto à minha passagem,
Diverso, móbil e só,
Não sei sentir-me onde estou.
Por isso, alheio, vou lendo
Como páginas, meu ser
O que segue não prevendo,
O que passou a esquecer.
Noto à margem do que li
O que julguei que senti.
Releio e digo: «Fui eu?»
Deus sabe, porque o escreveu.
24-8-1930
O confronto entre o eu poético de Fernando Pessoa e o mundo é sempre desencantado, se não mesmo amargo, e sonhos de que o futuro traga dias melhores não existem:
Lá fora a vida estua e tem dinheiro.
Eu, aqui, nulo e afastado, fico
O perpétuo estrangeiro
Que nem de sonhar já sou rico.
…
Ou como refere noutro poema:
…
Dentro em breve (poucos anos
É quanto vive quem vive),
Eu, anseios e enganos,
Eu, quanto tive ou não tive,
Deixarei de ser visível
Na terra onde dá o Sol,
…
Estes são fragmentos de complexos poemas que transcrevo a seguir, interpeladores da existência, do estado do mundo, do papel do indivíduo nele, onde sonhos não têm lugar:
***
Se penso mais que um momento
Na vida que eis a passar,
Sou para o meu pensamento
Um cadáver a esperar.
Dentro em breve (poucos anos
É quanto vive quem vive),
Eu, anseios e enganos,
Eu, quanto tive ou não tive,
Deixarei de ser visível
Na terra onde dá o Sol,
E, ou desfeito e insensível,
Ou ébrio de outro arrebol,
Terei perdido, suponho,
O contacto quente e humano
Com a terra, com o sonho,
Com mês a mês e ano a ano.
Por mais que o Sol doire a face
Dos dias, o espaço mudo
Lembra-nos que isso é disfarce
E que é a noite que é tudo
1-5-1931
****
Lá fora a vida estua e tem dinheiro.
Eu, aqui, nulo e afastado, fico
O perpétuo estrangeiro
Que nem de sonhar já sou rico.
Não sou ninguém, o meu trabalho é nada
Neste enorme rolar da vida cheia,
Vivo uma vida que nem é regrada
Nem é destrambelhada e alheia.
E um século depois terá esquecido
Tudo quanto estuou e foi ruído
Nesta hora em que vivo. E os bisnetos
Dos opressores de hoje, desta louca luta
Saberão, mas vagamente, a data
— E claramente os meus sonetos.
2-9-1922
Em todos estes poemas pressente-se o desejo de uma vida que não se viveu, e o medo de a sonhar traz consigo a dura e desencantada consciência do seu vazio, algo que o poema com que termino eloquentemente enuncia:
*****
Deslembro incertamente. Meu passado
Não sei quem o viveu. Se eu mesmo fui,
Está confusamente deslembrado
E logo em mim enclausurado flui.
Não sei quem fui nem sou. Ignoro tudo.
Só há de meu o que me vê agora —
O campo verde, natural e mudo
Que um vento que não vejo vago aflora.
Sou tão parado em mim que nem o sinto.
Vejo, e onde [o] vale se ergue para a encosta
Vai meu olhar seguindo o meu instinto
Como quem olha a mesa que está posta.
13-9-1934
Poemas transcritos de Fernando Pessoa, Novas Poesias Inéditas, Edições Ática, 1973.
Abre o artigo a imagem de uma pintura de Magritte (1898-1967).