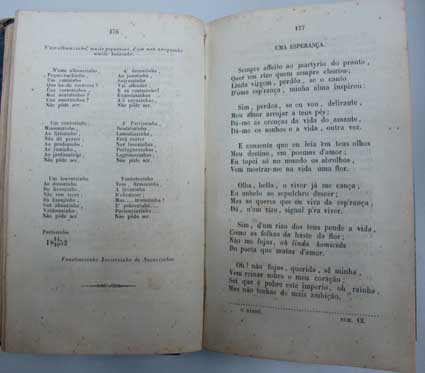Os livros acabam por vir ter conosco, referiu sabiamente J.V. Pina Martins num seu precioso ensaio sobre o amor dos livros:
[os livros] companheiros dos homens que os amam, eles sabem também procurar aqueles que com eles conversam.
… são eles que nos encontram e neles podemos sempre ter a certeza de descobrir uma palavra de conselho, de advertência e de amor!
e agora aconteceu-me.
A treta literária que por aí circula, elogiada no jogo de espelhos de amigos e capelas, tem-me mantido afastado e feito perder o contacto com alguma poesia com que afinal vale a pena, não sei se viver, certamente conhecer.
Encontrei-me recentemente com a poesia de Manuel de Freitas (1972). Surpresa, prazer e memória cruzaram-se para uma leitura apaixonada dos livros que consegui obter. Que mundo fui encontrar. Em Portugal sentiu-se assim enquanto eu vivia uma vida umas vezes feliz, outras sobressaltada? Foi na verdade mais espantado que perplexo que a li uma primeira vez.
É um mundo pequeno, o desta poesia. Há outros. O leitor que o sabe apreciará a verdade deste universo fechado sobre si no desencanto de estar vivo, onde a principio a morte parece esperar-se como uma libertação.
Uma poesia sobre o real, narrada na primeira pessoa, pode tentar-nos como autobiografia. Nada mais enganador.
Saberá o poeta e nós não, em que medida os dados de biografia espalhados pelos poemas em itinerários de espaço e tempo, conjugados com as dedicatórias, são realidade ou artificio literário para construir uma imagem. É irrelevante. Não confundamos o poeta com o cenário.
A realidade da vida nunca se confunde com a realidade literária. Nesta, a fragmentação que lhe é própria permite a cada leitura operar a síntese entre a experiência de vida do leitor e o que lhe é dado ler. E aí, esta poesia é rica. Escorre sinceridade nos relatos de emoção que são cada poema. Emoção de memórias vividas, contadas ou intuídas, não importa. Comovem-nos ao lê-las. Pode pedir-se mais a uma poesia?
Poesia de ironia ausente, levando-se a sério nas supostas verdade que nos conta, é sincera. E é esse o seu valor. Chega até nós, quase desde o início, em pequenos livrinhos amorosamente pensados.
Na unidade que a maior parte dos livros apresenta, exceptuem-se as compilações, onde um pequeno mundo se mostra e o poeta/homem nele se vê, muitas vezes com pena de si, e onde a excelência da factura poética está quase sempre presente, encerra-se um relato poético, frequentemente fascinante, desenvolvido entre um começo e um epílogo, a que acresce a completude no interior de cada poema.
Há, claro, contaminação entre livros que acaba por transmitir a impressão de uma unidade temática numa poesia publicada ao longo de 10 anos, apresentando uma visão do mundo a partir do adolescente em guerra com as emoções de não ser adulto, até ao adulto que encontrou o caminho por onde quer seguir.
Suspeito, por isso, que a poesia que virá será outra, profundamente diferente, a qual, a espaços, visitará este passado.
Ilude-se o poeta ao supor andar há 20 anos a falar da morte quando no poema publicado no seu último livro A NOVA POESIA PORTUGUESA – TEMA SEM VARIAÇÕES o refere, e transcrevo:
TEMA SEM VARIAÇÕES
– para o Manuel de Freitas, mon semblable –
Sempre soubeste: a morte.
Sempre sentiste: a morte.
As tabernas fechadas, eram
apenas uma espécie de refrão.
Mas isso, terás de convir,
não desculpa o facto
de andares há vinte anos
a escrever o mesmo.
Faz como as tabernas: cala-te.
Aproximar-se-ia da verdade em grande parte dos poemas, se referisse antes que anda a falar da morte de estar vivo, num lancinante grito de pedido de ajuda:
tirem-me deste filme, digam-me como é viver.
Neste mundo de tabernas os personagens bebem tinto e olham a vida no fundo do copo. O narrador bebe cerveja e faz versos que publica. Nenhum dos seus personagens vai em poesia além do dinheiro que tem no bolso e da vida que com ele faz: “ o pobre tem aquilo que pode ter, e o resto é conversa”.
Leiamos os dois primeiros livros:
Trata-se de uma poesia sub-25, por assim dizer, composta entre os 17 e os 25 anos.
É mais pungente que irónico o título do primeiro livro publicado em Setembro de 2000, Todos contentes e eu também.
Poesia juvenil (17 – 20 anos) a braços com a descoberta das emoções e em luta com um certo mal de vivre repassado de leituras poéticas onde a depuração da palavra ainda não chegou:
– tudo nos fazia lembrar um livro, / demorada canção onde afinal / não pudemos caber.
No poema final o poeta recomenda-se
… Parte / ao amanhecer como quem se esqueceu / de regressar.
Inebriada com a ilusão de ser adulto, esta poesia Embebeda-se. E pela escrita inventa / um crepúsculo que torne menos cruéis / as manhãs desesperadamente brancas / que o obrigam a viver.
Este primeiro livro, respeitando a um arco temporal de criação poética de 3 anos (1989-1992) termina com a redenção pela água
A água chama-nos , arrebata-nos uma força / a que só podemos chamar revelação. numa simbólica lavagem de um passado , qual bolor da nossa passagem magoada / sobre a terra.
A seguir o poeta publicou Os Infernos Artificiais (2001).
Nos diálogos de solidão com taberneiros (as) reside grande parte da fulguração desta poesia juvenil composta, ao que parece, entre 1993 e 1997, e cuja temática se prolonga por livros mais tardios.
Exterior à gente que frequenta a taberna, tenta fundir-se nela com o ligeiro desacerto de beber cerveja onde se vive de vinho e desencanto ou de um tempo bem passado a ver a vida.
Nas tabernas, por paredes e mesas às vezes o azul espreita, rasgos de luz a querer iluminar, ou fazer fugir, aquele negrume, suposição de vida. São as cenas de taberna pintadas por Jan Steen, cervejeiro em Delft e pintor holandês de génio no século XVII, o que me salta aos olhos à leitura de tantos destes poemas.
Na maior parte dos poemas lemos uma humanidade encalhada na vida, envolta entre fumo e álcool, onde perpassa uma imensa, gritante, falta de foder como deve ser
Estas coisas perdem-se. Primeiro / a disponibilidade para a paixão, depois / a própria capacidade de alguém / se vir noutro alguém. … [Celine blues]
naquela alegria primordial que explica porque vale a pena viver. É gente que nunca está nua frente à natureza, que não conhece o mar.
Poesia fascinada do nojo de si, apenas em alguns poemas apanha a espessura do humano.
Em LEVADAS publicado em Março de 2004, faz o pleno.
Num grande, enorme livro de 16 poemas, a arte da síntese que a poesia é manifesta-se. E vemos e seguimos por lugares povoados de gente e memória:
Mariazinha. Esquecia-se de comer,
regressava devagar à tristeza
feliz da infância. …
numa geografia da alma que fala da diversidade do mundo falando do universo isolado que é a Ilha da Madeira.
Publicado em Março de 2007 e composto entre Janeiro e Abril de 2004, um outro livro, JUROS DE DEMORA, desperta em mim o desejo do comentário.
Colecção de poemas onde se cobra a demora em ser feliz,
não sei de que fujíamos,
pergunta-se o poeta, e onde a juvenil urgência de viver desiludiu,
nunca mais acreditei no sexo / sem amor, no amor sem sexo.,
neste mundo onde a taberna é
refúgio de quem se especializou na abdicação.,
a percepção da harmonia existente na paciência dos pequenos gestos espreita na observação do jardineiro:
junta as folhas uma a uma, / com um pequeno ancinho, / e sorri, distante, aos que se / namoram – ,
e comovidamente regista em imagens musicais a visita da morte:
“A folha, outra folha. / Onde a tua mão repousava, /
e no poema seguinte:
Débeis folhas de loureiro, rente / ao fim da tarde, serviram-me de aviso.”.
Neste relato de estudantis deambulações por Coimbra, sexo e solidão incluídos, é pelo cinzento do real, num momento rasgado a vermelho
“ Ela vestia o mais ardente / vermelho que já vira.”,
que somos levados:
“Lá fora, no sereno largo do Romal, / os repuxos de água (por mais / luz que lhes dessem) eram / incapazes de corrigir as trevas.”
Entretanto o poeta viajou, outros livros sugiram. Olhou os outros e viu-se neles.
Avançando no tempo acontece nesta poesia a redenção pela musica e pelo amor, e uma certa linguagem poética chega a um beco.
Em fecho de viagem visito dois livros onde a musica reina.
JUKEBOX 1 & 2 (Outubro de 2009)
Sendo grande parte desta poesia um requiem por uma morte anunciada, em JUKEBOX 1 & 2 temos a morte anunciada como metáfora no livro 1.
No livro 2 há um progressivo renascer, ou mesmo ressuscitar, diria, pontuados pela musica, pela beleza da musica, e acontece uma progressiva entrega ao amor.
A abrir, refere o protagonista poeta/narrador
… pela primeira vez, / os meus braços já não queriam desistir.
Depois Bach
… foi a melhor, / talvez a única solução / para o horror de estarmos vivos /
Na revisita a Nick Cave, 13 anos depois, a renovada experiência traduz-se em
… coisas de que podemos enfim sorrir
Ano a ano a musica continua a alimentar este recomeço, e em 2002 a musica suspende
…o nojo de haver mundo
Em 2004, pela 1ªvez, suponho, é dia e
A luz da manhã veio dar razão ao último coral
de Bach, talvez.
Ainda 2004 e 2005, o cravo, a musica barroca, e o adulto despede-se do adolescente/anjo decapitado
Coitado, não tem culpa nem cabeça. / demolido rosto que quiseste tanto.
E constata, diria que deslumbrado, que
Às vezes, por breves instantes / a beleza habita sobre a terra, / tão urgente…
2006 e a lucidez de uma viagem breve ao passado
... um tempo que nos encontrava vestidos / de nenhuma cor, partilhando / charros a desoras. O amor?
2007 a coragem do amor aparece e
As pedras de gelo aceitaram desfazer-se no meu copo. … e se reacende, todavia, a vela frágil do amor.
Ou ainda e sobretudo, no poema seguinte:
E a noite, menos escura, se afastava / para sempre destes versos e de nós
Longe vai a irmandade com os destroços da cidade e o narrador deixa a Igreja de S.Domingos, local assombrado pelo fogo da inquisição, a gostar de Poulenc, da sua obra coral pelo menos. Não sei se chegou à Mamelles de Tirésias (a ironia continua longe desta poesia).
2008 no itinerário musical do canto/verso
Uma voz perdida volta a cantar Final Day
E a memória atravessa-se com o passado
Nós, vinte anos depois, nem disso fomos capazes
2009 a despedida de uma poesia de morte como metáfora da recusa de viver
Mas já não tenho poemas
E na verdade, 2009 e 2010 vêem aparecer, ao que julgo, apenas recompilações e reedições, no que será provavelmente um ciclo poético que se fechou.
Termino com BEAU SÉJOUR publicado em 2003
Chopin , Op. 10 nº3
É sob o guarda-chuva do estudo de Chopin, conhecido pelo nickname de Tristesse, num andamento lento ma nom troppo que o livro se inicia.
Paira um sossego de morte, musica para mãos paradas refere a certa altura o poeta, pela primeira parte do livro. Heilige Tod (Morte Santa) lhe chama. Percorre esta poesia uma serenidade pungente, a espaços iluminada, numa espécie de deambular num regresso a casa depois do mundo experimentado.
BEAU SÉJOUR é o Op. 10 nº3 de Chopin pontuado pela paz e serenidade do Op. 78 de Schubert [D894], suponho.
A menos de avós e tias, que a espaços afloram na sua grandeza de verdade, as pessoas são mobília no cenário dos poemas. Lemos percursos por lugares onde os poemas derramam o sentimento de ter sido vivido assim.
A existência revista nos nadas que a memória encontra e recupera.
A segunda parte do livro aparece sob a epígrafe do Adagio de abertura da sonata em trio para 2 flautas e contínuo de J.S. Bach BWV 1039. Do ponto de vista musical, Adagio é um tempo lento com carácter lírico, por vezes pungente, e no recorrente entrosamento desta poesia com vivências musicais não podemos, ao lê-la, passar ao lado desta característica.
O abrigo sob o Adagio da sonata BWV 1039 parece conduzir a leitura dos poemas exactamente para esta atmosfera.
É doce a imagem de O café do Hortelão II à luz de um quadro de George La Tour,
uma vez faltou a luz e ficámos / toda a noite em silencio de LaTour ,
naqueles clarões de vela iluminando alguns rostos serenos e permanecendo o escuro no resto da superfície pintada.
A poesia destes lugares, por mais que as palavras o pretendam desmentir, é, para o poeta, esta pintura serena.
Te Deum, Bach e a inclinação musical para a queda fecham o livro no caminho do amor em vermelho [será o vermelho de Coimbra contado em JUROS DE DEMORA?] e já não no azul do vestido que quase rasguei no Baile de Finalistas.
Este Baile de Finalistas escapa ao crivo do poeta e é um poema falso no trocadilho dos títulos dos livros de Virgílio Ferreira.
Poesia em que as imagens passam a metáforas e se desdobram em símbolos, Pedro e Paulo movem o mundo e o poeta/narrador supõe que ironiza louvando na companhia dos Apóstolos, a Deus – TE DEUM – quando tem apenas pena de si.
Resisto à tentação de ler o poema como metáfora da peça musical tocada pelo trio Pedro/Paulo/Narrador, que me parece leitura redutora e despida da emoção simbólica que o poema exala.
O excesso, agora, é uma maneira / de dizer ausencia, o azul caído / em meados de Setembro.
CARPE DIEM (?)- interrogação minha.
Noticia Bibliográfica:
Os livros publicados quase sempre em pequenas tiragens são hoje difíceis de encontrar.
Está disponível na Assírio & Alvim uma antologia A ÚLTIMA PORTA, publicada em Março de 2010 em 750 exemplares, que não constitui um panorama da poesia do autor. É uma escolha pessoal do antologiador.
Publicado em Setembro de 2010 em 250 exemplares, A NOVA POESIA PORTUGUESA tem venda exclusiva na Livraria Poesia Incompleta, em Lisboa, que também o editou.
Dos titulos mais antigos encontrar-se-ão alguns junto de livreiros informados e disponíveis.
Os livros lidos ao longo do artigo, além dos já citados foram:
Todos contentes e eu também, publicado por Campo das Letras em Setembro de 2000 sem tiragem declarada.
Os Infernos Artificiais, publicado por frenesi em Maio de 2001 em 500 exemplares.
BEAU SÉJOUR, publicado por Assírio & Alvim em Outubro de 2003, em 1000 exemplares.
LEVADAS, publicado por Assírio & Alvim em Março de 2004, em 350 exemplares numerados e assinados pelo autor.
JUROS DE DEMORA, publicado por Assírio & Alvim em Março de 2007, em 400 exemplares.
JUKEBOX 1 & 2 , publicado por Teatro de Vila Real em Outubro de 2009, numa tiragem de 400 exemplares.
O restante da obra lida, mais onze títulos, contribuiu para consolidar as opiniões desenvolvidas.
Nota musical enciclopédica:
Para a eventualidade de algum leitor aqui ter chegado e a isso acrescentar a curiosidade musical, deixo um itinerário discográfico abreviado para as peças musicais de que os poemas falam no livro BEAU SÉJOUR, sobretudo a sonata para piano de Schubert, mãe do poema OPUS 78, cuja autoria não está identificada e já vi atribuído à Op. 78 de Beethoven.
Para Standchen, que as avós ouviam na radio,e o poeta refere no poema OPUS 78, Schubert compôs 3 canções com o mesmo nome e Dietrich Fischer-Dieskau cantou 2, pois a 3ª é para voz feminina e coro.
Suponho que o poeta se refere à que integra o pseudo-ciclo Canto do Cisne – Schwannengesang – habitualmente na 4ªposição. Dieskau gravou-a diversas vezes ao longo da vida. Pode encontra-se ainda com facilidade na caixa DG com os 3 ciclos de Schubert para canto e piano, tendo ao piano Gerald Moore. Poupo-me e poupo o leitor à listagem da mais de dezena de interpretações que conheço do ciclo.
Agora a Sonata de Schubert Op.78 D894
Pelo menos 5 poetas do piano:
– Radu Lupu – Decca 2894176402 7 – 1 cd
– Alfred Brendel – Philips 2894469232 7 – 5cd’s – The Art of Brendel, Schubert
– Wilhelm Kempf – DG – 2894637662 1 – 7cd’s – The Piano Sonatas
– Claudio Arrau – Philips 2894329872 8 – 1cd – The Final Sessions 1
– Sviatoslav Richter – Brilliant 502936532 7 – 100cd’s, A fabulosa caixa The Russian Legends com concertos ao vivo. Esta interpretação foi gravada em 03-05-1978.
O ISNB referido é o das cópias que possuo e podem já não existir no mercado com esta identificação, mas é o que tenho. Paciência.
Para Chopin, as interpretações dos Estudos, onde se encontra o Op.10 nº3, pululam, pelo que me dispenso de deixar sugestões. Pollini, Richter, valem sempre a pena. Michelangeli sobretudo, se o encontrar.
Para a sonata em trio BWV 1039 de J. S. Bach, com 2 flautas as gravações são menos frequentes. Recomendo, no entanto, a transcrição para 1 flauta e contínuo na interpretação de Marc Hantaï gravada para a Virgin.
Para o diálogo perfeito entre uma Pavana de Byrd e o mar de Santa Cruz [LICEU SÁ DA BANDEIRA 1988], não sei que interpretação sugerir, se no piano de Glenn Gold se no cravo de Leonhard.
A variação de Bizet eventualmente tocada pela preceptora [BOLETIM SALESIANO], se for uma das variações cromáticas de Bizet, poderá ser recordada pelos dedos de Glenn Gold. Ele interpreta-as no disco duplo incluído na colecção Great Pianist of the 20th Century, o qual também inclui Pavanas de William Byrd.
Como nota de curiosidade, para o caso de me ter enganado na identificação da canção de Schubert, aqui fica a referência para a outra Standchen (Serenata) D899. Trata-se da versão alemã de A.W. Schlegel de uma canção da peça de Shakespeare, Cymbeline: Hark! Hark! The lark at heaven’s gate sings, a qual também foi musicada por Joseph Haydn, E Dieskau gravou-a mais que uma vez.
Já agora a 3ª Standchen, D920, para voz feminina e coro pode encontrar-se no disco DG com lieder de Schubert cantado por Anne-Sofie Von Otter, tendo ao piano Bengt Forsberg e o coro feminino da Rádio da Suécia.
Enjoy poetry and music.